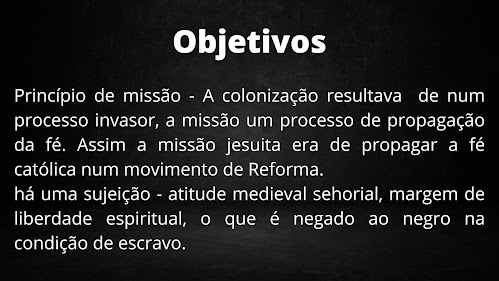Resumo: SADIE, Stanley. Mozart. Série The New Grove. Tradução de Ricardo Pinheiro Lopes. Porto Alegre, L&PM, 1988. (Assunto Variação da página 448).
Variação.
A variação acontece por várias repetições modificadas de um tema, sua forma é identificada por volta do século XVI, como técnica de um processo musical em que a repetição improvisada das tensões em diferentes formas ou tópicas é uma parte. Normalmente nos temas para variação é constituído entre 8 até 32 compassos, sendo uma melodia, uma linha de baixo, uma progressão harmônica ou um complexo com todos elementos.
Caso o tema seja breve para um ostinato, as repetições formam uma estrutura com novos motivos e texturas em cada afirmação do tema. Quando o tema apresenta de forma independente na forma de duas repetições, as repetições formam uma estrofe pois prevalece apenas alguns elementos e mudando outros, conhecido como “tema com variações”. Ao contrário de repetições sucessivas, as variações acontecessem isoladaente ou em grupos após a interveção do material inicial do tema a ser variado, o resultado pode ser chamado de “variações híbridas”.
Assim, o conjunto de variações podem se apresentar como peças independentes ou dependentes, na maioria das vezes para solo em piano, para combinações de orquestra de câmara, em movimentos de uma grande obra como uma sinfonia, em sonatas para pino ou quarteto de cordas. São baseadas num tema conhecido em que o esquema harmônico e melódico são bem reconhecidos ou sobre um tema “original” onde as variações ocorrem como um conjunto independente, em alguns casos a variação ocupa maior parte do movimento. Exemplo é o final da Nona Sinfonia de Beethoven ou o primeiro movimento do quarteto de Brahms em Cm op.60, segundo tema.
Introdução, transição entre variações e coda são as partes da variação, e surgem pela primeira vez no final do século XVIII, a variação sempre teve um problema relacionado a “imagem” do tema, por conta de sua fidelidade ao repetir, devido ao padrão de cadência em que limita o compositor e o ouvinte a processos de finalização mais claros e desenvolvimento mais complexos. Em segundo lugar, ainda no século XVIII, muitas variações foram compostas a partir da melodia do tema tornando os compositores como “meros ornamentadores” em que obscureciam os méritos da simplicidade do tema.
Entre 1790 e 1840 a variação obteve reação contra sua exibição vazia, surgindo variações compostas por modos virtuoso, sendo criticada por Momigny em 1818, em que denominou de “ muita fala, mas pouco sentido” sendo vistas como uma tática para rebaixar o formulário carente de conteúdo. As variações são comparadas nesta época, como um estilo irregular em oposição ao estilo arredondado e perióicco da oratória , como a forma sonata, por exemplo. É sintetizada como uma foma que os compositores repetem os temas, impulsiona uma variação é a relação com o tema, as ideias centrais são apresentadas como exibição, ornamento, fortalecimento de um tema por motivos e efeitos estéticos da repetição, ou eja, vem direto da arte retórica.
1- A Retórica da Variação
A ideia de variação surge pelos modos de exibição compartilhados, pela compreensão do poder persuasivo da repetição ornamentada. A relação entre retórica e variação é explicada por formas de conexões explicativas, modelos retóricos para compor uma variação, a ideia motívica de figuras e motvos como ferramentas flexíveis de analise nas variações. Para Abbé Vogler, 1793, as variações são definas como uma etórica musical em que apresenta em diversas formas, acontecendo mais na música do que na oratória.
Os modelos de variação surgem do ars praedicandi, a retórica medieval, perdurando no século XIX. A construção do sermão era por escolha de um tema, uma citação das escritura, esclarecida e ampliada por uma série de divisões, sendo que cada divisão poderia ser uma citação. Para Joseph Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst (1755), de Riepel, no segundo volume do livro, debatem como o aluno ao eleger que compositor é como um pregador das escrituras devendo se ater ao tema, já o professor sustenta que o desvio momentâneo do sermão fortalece o tema prevalecendo na memória.
No tratado do século XVI, divulgado por Erasmus ( De copia, 512), baseando-se em Quintilhiano pela capacidade de senvolver o mesmo discursso de formas diferentes, suas demonstrações incluem 150 variações de frase “ a carta que me agradou poderosamente” e 200 variações de “ lembrei de você enquanto eu viver”, exemplos de variações da primeira frase:
Sua epístola me emocionou intensamente.
Sua breve nota refrecou meu espírito em grande parte.
Suas páginas me geraram um prazer desconhecido.
Sua comunicaçãoo derramou frascos de alegria na minha cabeça.
Sua carta prontamente expulsou toda tristeza da minha mente.
Bom Deus, que grande alegria procedeu de sua epístola.
Posso perecer se alguma vez tiver encontrado algo em toda a minha vida mais agradável do que a sua carta.
Sobre as variações, Erasmus eccoou as premissas de retórica da antiguidade aos tratados do século defendendo que a tendência do discurso ser incompreensível é totalmente tolo e ofensivo sendo aprincial vantagem da obscuridade é aquela em que o falante evite a repetição literal.
As variações retóricas eram vistas como meios de polir estilos, na descrição de Cícero (Cícero, v:' Orator ', ed. e trad. H. M. Hubbell, Loeb Classical Library, 1939, xi.37 – xii.38). ao descrever e desenvolver a oratória, palavras inconscientes são acrescentadas lado a lado e as coisas contrastadas são emparelhdas, cláusulas são feitas para terminar da mesma maneira, como forma de possuir um polimento, as variações são denominadas como um passo final no treinamento de composição.
Brahms incentivou seu aluno , Gustav Jenner, a começar compor com variações. Contudo Aristóteles encontrou características de variação na retórica epidêmica: A dependência da amplificação, a preocupação com o sujeito atribuindo-lhe beleza, semelhança com a prosa como uma oratória a ser lida (Art of Rhetoric, I.ix.38-40; III.xii.6). Quintiliano revela a importância da prevalência do sujeito no discurso (instituto oratória, VIII, iv).
Assim ambos Gedanke e Ausdrunck oferecem maneiras variadas de colocar o mesmo assunto, concluindo que os números de variações são naturais e necessários mas não devem ser usados em excesso, para eles o números são usados para adornar a música. Teóricos do século XX, como como Burmeiser, seus colegas como Schering, Unger e Gurlitt fez a aplicação de figuras retóricas para se apresentar mais obscura e sóbria.
Nas variações de Erasmus, a figura variada pode ser vista como espécie de figura retórca, ou seja é abordado o mesmo assunto parecendo como algo novo, uma nova forma acrescida de argumentos comparativos, um contraste para exemplificar e uma conclusão para reafirmar o tema (IV, XIII, 54-XIiii, 56).
Para Ad Herennium a variação e vista como algo do discurso em que a palavra é substituída por seu sinônimo, outra palavra de mesmo significado.
Os tratados retóricos elisabeteanos revela a variação como um aspecto de persuasão, de convencimento do discurso, oferencendo outros modos de terminologia e novas ferramentas para analise das variações.
2. Terminologia.
A palavra variação, origina-se do adjetivo varius que denomina uso antigo não especializado a uma impressão de colorido em plantas e animais, em que o sentido colorido se denota por “indeterminado” ou “flutuante”. As comparações de variação com cores podem ser comparadas musicalmente com o uso do chromatismo, por Zarlino (Istituto harmoniche, 1558, 3/1573, p.100). Assim a associação de Varius com variação, é sustentada pelos primeiros conjuntos de variações do século XVI, pela característica de subdivisão do ritmo e alteração no compasso do tema, denominando um esquema em que a expressão é alterada (Quintilian, instituto oratória, IX.i.10-11, 13). Christoph Bernhard define variação como a alteração de um intervalo em que em vez de uma nota, várias notas mais curtas ocorrem para a nota principal em todas execuções.
Para Bernhard, Prinz, Praetorrius e Vog, a variação preenchimentos melódicos ou rítmicos usados para preencher um grande intervalo, podendo ser discutido o tratamento de dissonância.
O tratamento da dissonância nos valores de notas pequenas são discutidos no século XVIII por Fux (Gradus ad Parnassum, 1725, p.217) e Scheibe (Compendium musices theoryetico racticeum, ed.P. Benary em Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, 1961, p.62). A variação no século XVIII como obra de arte é discutido no século XVII e XVIII, como aproximação da natureza e como um prazer afirmado na música por Simpson, Heinichen, Mattheson e Daube.
Variar e variação se tornaram mais frequente durante o século 17 e 18, usada como fonte de prazer e aproximação da natureza, nessa época realizações figuradas no baixo foram percebidas como variação de um modelo mais simples.
Em Musical Dictionary, 1740, variação é conceituada como uma maneira de tocar ou cantar a mesma música subdividindo as notas em várias de menor valor, ou adicionando. No final do século XVIII, a variação continuou sendo tratada como uma técnica de improvisação ou de composição e os compositores raramente faziam distinções entre técnica e forma. No século XX, o termo variação aplica em diferentes processos, em Schoenberg variação variável refere-se uma remodelação de uma forma temática básica; Fred Lerdahl variação é a elaboração crescente e em ciclos a partir de um modelo simples, com estabilidade de eventos que são considerados o ponto de partida.
Referências
GerberNL
Grove6 (K. von Fischer and P. Griffith)
MGG1 (K. von Fischer)
MGG2 (K. von Fischer/S. Drees)
H. Viecenz: ‘Über die allgemeinen Grundlagen der Variation-Kunst, mit besonderer Berücksichtigung Mozarts’, Mozart Jb 1924, 185–232
R.U. Nelson: The Technique of Variation: a Study of the Instrumental Variation from Antonio de Cabezón to Max Reger (Berkeley and Los Angeles, 1948/R)
J. Müller-Blattau: Gestaltung-Umgestaltung: Studien zur Geschichte der musikalischen Variation (Stuttgart, 1950) K. von Fischer: Die Variation, Mw, xi (1956; Eng. trans., 1962)
N. Frye: ‘Wallace Stevens and the Variation Form’, Literary Theory and Structure: Essays in Honor
of William K. Wimsatt, ed. F. Brady, J. Palmer and M. Price (New Haven, CT, 1973), 395–414
H. Weber: ‘Varietas, variatio / Variation, Variante’ (1986), HMT H.R. Picard: ‘Die Variation als kompositorisches Prinzip in der Literatur’, Musik und Literatur: komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft, ed. A. Gier and G.W. Gruber (Frankfurt, 1995, 2/1997), 35–60
D. Hörnel: ‘A Multi-Scale Neural-Network Model for Learning and Reproducing Chorale Variations’,Melodic Similarity: Concepts, Procedures, and Applications, ed. W.B. Hewlett and E. Selfridge-Field (Cambridge, MA, and London, 1998), 141–57